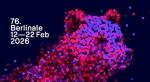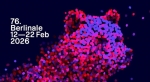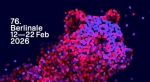Refinamentos de Estilo em Ambientes Populares
A menina morta (1954) foi o último romance do escritor Cornélio Penna e está certamente entre os primeiros da literatura brasileira

Cornélio Penna escreveu poucos livros. A RM Editores, uma casa curitibana, tratou, agora, da reedição integral de sua obra, há muito fora de catálogo. Não surpreende a desatenção do público digital de hoje para com os textos de Penna. Diante da linguagem pobríssima de nossos dias —frases miudamente telegráficas, onde a sintaxe opera por elipses confusas e indigentes e se desprezam as vastidões da língua—as exigências formais de Penna vão pouco a pouco perdendo o sentido. A menina morta (1954) foi o último romance do escritor e está certamente entre os primeiros da literatura brasileira; sua forma raciocinada de expor fatos e orações remete a curvas sintáticas que são únicas; em momento algum, a criatividade baixa a guarda, e a lentidão do olhar narrativo corresponde aos descampados das fazendas interioranas onde se passam as minúsculas ações do enredo.
Em algum lugar, um crítico gaúcho de cinema, escrevendo sobre as polêmicas ideológicas em torno do cineasta paulista Walter Hugo Khouri, referiu uma frase que seria do diretor espanhol Luis Buñuel: “A forme não justifica o abastardamento da arte.” Em Penna este conceito se encaixaria de maneira ainda mais exemplar: Ele ambienta suas narrativas em rincões populares, mas sua linguagem tem um trabalho estético de primeira.
Para pensar literariamente em Penna, é preciso pensar em gente diferente em termos literários. Criaturas que escrevem de maneira muito particular. Indivíduos que reflexionam inicialmente sobre a questão da linguagem: o querer contar suas histórias fora do ramerrão linguístico. Entre estes assemelhados, Lúcio Cardoso, de quem Penna foi amigo. Há identidade espirituais entre estes dois romancistas. Lúcio é mineiro, e Penna, nascido na serra fluminense, adquiriu sua mineirice ao viver sua primeira infância no interior de Minas. Nos Diários de Lúcio Cardoso o autor de A luz no subsolo (1936) fala dum dolorido encontro com a viúva de Cornélio Penna, algum tempo depois da morte de Cornélio. Nestes mesmos Diários Lúcio anota, datado de janeiro de 1951, agudamente:
“Hoje, num cinema, distraí-me do filme pensando no estilo de Cornélio Penna, e não sei por que, lembrando com extraordinária intensidade certas palavras, certos motivos que lhe são peculiares. Tudo aquilo vinha a mim como as notas de uma sinfonia solene e surda, e eu imaginava que tal poder musical e encantatório só pode pertencer, na verdade, a um grande artista.”
Aconteceu com Lúcio. Acontece com todos os que nos debruçamos sobre as páginas de Penna. Somos devassados pela impressividade de seu texto. A menina morta, cujo velório é acompanhado nos primeiros movimentos do romance, vai determinar a atmosfera daquelas lonjuras preenchidas pela aristocracia escravocrata e pelos negros em torno; na verdade é este em torno de pretos que acentua o clima de época magnificamente entremostrado pelo romancista. A ambientação vulgar não determina o estilo de escrever de Penna, que se refina à luz da inteligência verba, como já se demonstrou; Penna não tem, por temperamento, a rudeza trivial do maranhense Josué Montello em Os tambores de São Luís (1974), que também navega pela escravidão brasileira. Penna tem uma discrição narrativa de que Josué abdica para ir ao encontro de seus arroubos mais românticos, pós-alencarianos. Penna é, digamos assim, nosso Georges Bernanos: ascético e asséptico, um pão sem linguiça no meio. A primeira fala é duma velha negra que se dirige a uma senhora branca, germânica. Há um “vancê” mais popular na frase, mas é só: aqui e ali uma palavra emite o som do povo, mas a sintaxe de Penna depura este som, criando um texto constantemente contrastante e inventivo, sem submissões de espécie alguma, quer ao lado pedante da linguagem, quer a seu lado castrado e popularesco —não lhe sai da pena nada disto, senão o que é autenticamente do romancista, seu próprio lirismo narrativo.
“O sol erguia-se em triunfo por cima da muralha de brumas e dourava suas fímbrias, e a própria terra parecia dissolver-se naquela poeira divina, sem limites.” O texto de Penna é um pouco este sol que se levanta em torno da muralha de nossos olhos. Uma linguagem feita da luz das palavras. No parágrafo final do livro, a imagem da muralha retorna. E a luz das brumas também. “Carlota então apoiou à parede o seu corpo que esposou a muralha feia. E a luminosidade flutuante em farrapos pela sala, toda se concentrou na figura leve da menina morta que, tendo a cabeça pousada na almofada, parecia sorrir, mas seu sorriso poderia ser apenas o efeito daquela luz pobre, que dentro em pouco deveria parar de bruxulear, para se apagar para sempre...” Na verdade, Cornélio escreve um tanto como esta menina morta que aos poucos vai dando movimentos a este esquife minucioso que pode ser a literatura: registrar aquilo que morre como eterno.
(e-mail: eron@dvdmagazine.com.br)
Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes
Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro ?Uma vida nos cinemas?, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br
relacionados
últimas matérias